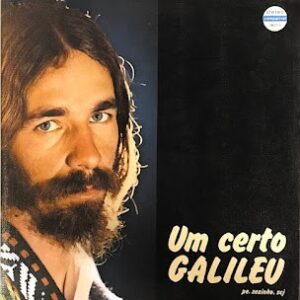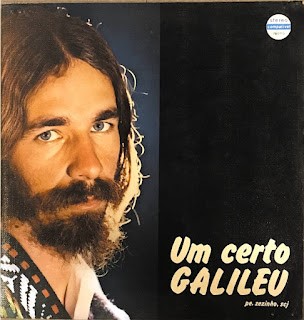Salvo engano de minha parte, a Igreja entende bastante de escravidão. Nada mais natural, pois seu fundador – Jesus Cristo – “sendo de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens”. A observação é de Paulo, livre cidadão romano, na Carta aos Filipenses (2,6-7). A morte na cruz era privilégio de escravos e grandes criminosos, sendo interdita a um patrício.
Outro caso dos primórdios da Igreja aconteceu com um cristão chamado Filêmon. Fugiu-lhe um escravo que – ironia do destino! – acabou em Roma, agrilhoado no mesmo calabouço que o apóstolo acima citado. Chamava-se Onésimo o escravo, nome grego que significa “útil”, mas mostrara-se absolutamente inútil, a ponto de fugir do patrão. Paulo, já idoso e enfermo, foi bem cuidado por Onésimo. Ao mesmo tempo, Paulo o evangelizou e batizou. Solto o escravo, Paulo o devolve ao antigo dono com uma observação importante: “Tu o recuperas não mais como escravo, mas bem mais do que escravo, como irmão caríssimo, meu e sobretudo teu”. (Fl 16.) O batismo irmanara o dono e a posse.
Escrevo estas notas inspirado por curioso achado no livro “A História de São Vicente de Minas”, de Antônio Alves Lima (Ed. Do Autor, Juiz de Fora, MG, 2010). É a transcrição de uma alforria, datada de 28 de abril de 1886: “Digo eu, abaixo assinado, o Vigário Tertuliano dos Reis Meirelles, que sou senhor e possuidor de uma escrava de nome Luiza, crioula, de idade de cinquenta anos, mais ou menos, a qual escrava eu de minha espontânea vontade a forro gratuitamente, pelos bons serviços que me tem prestado, a qual escrava gozará de sua liberdade de hoje em diante, como se fosse nascida de ventre livre”.
Entre outros motivos para fazer da Igreja um saco de pancadas, está sua “colaboração” com o estatuto da escravidão. Convém, no entanto, registrar que a chaga da escravidão acompanha a humanidade desde seus primeiros passos, milênios antes da fundação da Igreja. A pregação inicial do Evangelho ocorre nesse contexto social e, claro, gera inevitável crise institucional. Famílias inteiras acolhiam a mensagem cristã e todos – patrões e servos – eram adotados como filhos de Deus no Batismo cristão.
A lista dos primeiros mártires anota, lado a lado, os nomes da patroa e da escrava. É o caso de Santa Perpétua e Santa Felicidade. O patrologista A.-G. Hamman anota que pelo menos dois bispos de Roma foram escravos, Pio e Calixto: “Imaginemos os nobres Cornélios, Pompônios e Cecílios recebendo a bênção de um Papa que ainda trazia o estigma de seu antigo mestre!”
Mesmo em tempos mais recentes, houve santos que experimentaram a escravidão, como São Vicente de Paulo que, raptado por piratas turcos, foi levado para Túnis e vendido sucessivamente a um pescador, a um alquimista e a um ex-franciscano que adotara o islamismo. Em pleno Século XX, uma africana do Sudão, Josephina Bakhita, saltou da senzala para os altares, sendo canonizada no ano 2000 por João Paulo II.
Ao condenar a Igreja por sua cumplicidade, deixa-se na sombra (intencionalmente?) a luta de tantos cristãos pelo fim da escravatura. É o caso do mesmo Vicente de Paulo, o apóstolo dos miseráveis, que assumiu o cargo de “capelão-mor das galeras”, em 1619, para cuidar dos condenados à galé. A marinha francesa do Séc. XVII dependia de braços para remar em suas galeras, garantidos pelos delinquentes condenados nos tribunais da época.
Sobre eles, São Vicente escreveu: “Amontoados em calabouços nojentos, acorrentados pelo pescoço e pelos pés, cheios de vermes, sem socorro, sem consolação, sem esperança, sem fé”. O rei fabricava o escravo, a Igreja cuidava dele…
Mais recentemente, em pleno Séc. XIX, o calvário dos escravos cubanos inspirou ao novo Arcebispo de Santiago de Cuba, Antônio Maria Claret, uma carta pastoral que propunha um plano de comportamento entre senhores e escravos, partindo do princípio de que estes eram parte da família e, assim, devia reinar entre eles o respeito e o amor.
Bem antes, no Séc. XVI, em pleno período colonial, fora a vez de Frei Bartolomeu de las Casas, missionário dominicano, desafiar os interesses econômicos da coroa espanhola e defender os direitos dos escravos. Em carta ao Imperador Carlos I, ele dizia:
“Se a opinião de Ginés de Sepúlveda (de que as campanhas contra os índios são legítimas) for aprovada, a mais sagrada fé de Cristo, para vergonha do nome cristão, será odiosa e detestável a todos os povos do mundo que tiverem conhecimento dos crimes desumanos que os espanhóis infligem a essa raça infeliz, de modo que nem no presente nem no futuro irão aceitar nossa fé sob qualquer condição, pois veem que seus primeiros arautos não são pastores, mas saqueadores, não são pais, mas tiranos, e que aqueles que a professam são ímpios, cruéis e impiedosos em sua inclemente selvageria. […] Eles não são ignorantes, desumanos ou bestiais. Ao contrário, muito antes de ouvirem a palavra “espanhol”, tinham Estados adequadamente organizados, sabiamente governados por excelentes leis, religião e costumes. Cultivavam a amizade e, unidos em comunidade, viviam em cidades populosas nas quais administravam sabiamente os negócios tanto da paz quanto da guerra de forma justa e equitativa, governados verdadeiramente por leis que, em muitíssimos pontos, superavam as nossas.”
Se Claret e de las Casas fossem vivos, veriam a situação dos trabalhadores que vieram do Haiti e da Bolívia e trabalham no Brasil de hoje em situação não muito diferente dos escravos de seu tempo. E seus olhos denunciariam aquilo que não queremos ver: a sociedade escravocrata permanece. Tão críticos em relação ao passado… tão cínicos em relação ao presente…
Artigos Relacionados