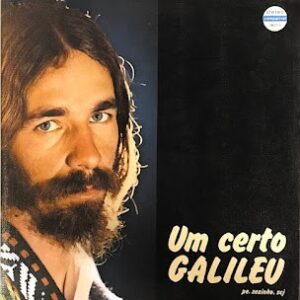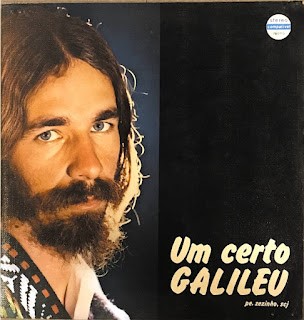A releitura de Camus, em seu inquietante romance “A Peste”, editado por Gallimard nos primeiros anos do pós-guerra, me força a meditar sobre o comportamento religioso. Exceto para os grandes convertidos, para quem a religião é sempre uma “novidade”, os fiéis habituais vivem uma fé tranquila, feita de ritos e gestos tradicionais, e simultaneamente estéril e sem consequências. Seria preciso um cataclisma de grandes proporções para arrancá-la de seu imobilismo.
Existe, sim, uma religião para tempos de paz, quando o sol nasce exatamente na hora marcada e a serenidade permite que os pombos passeiem pela praça da cidade. Entre sorrisos contidos e abraços canônicos, os rituais são cumpridos religiosamente, segundo os manuais. Os pecados são os de sempre, pecadinhos da burguesia neutralizada pelo bem-estar, e logo compensados pelas penitências tradicionais de algumas Ave-Marias debulhadas às pressas. Em tempos de paz, a contrição é rara, o pecador nem sabe o que ele é de fato…
Entretanto, como diz Albert Camus, “a religião do tempo da peste não pode ser a religião de todos os dias”. E o romancista tem razão. Aliás, está é a razão de ser dos grandes romances: lembrar que a vida pode ser outra coisa…
De acordo com a proposta do romancista, quando a rotina tranquila de uma sociedade se vê abalada por um desastre de proporções – como a peste em Oran ou como a Segunda Guerra mundial –, os velhos andaimes em que nos apoiávamos já não são suficientes para dar sentido à realidade envolvente. Neste ponto, ou rejeitamos a Deus ou rejeitamos a todo o resto.
Existe, pois, uma religião para tempos de guerra, quando a tranquilidade cede lugar à tensão, o rito dá espaço ao risco e a iminência da morte nos oferece uma encruzilhada: fechar-nos no isolamento da loucura ou abrir-nos à dolorida solidariedade com aqueles que a morte vem rondar.
Nos tempos de paz, ajuntávamos moedas; em tempo de guerra, doamos sangue. E esse terrível cavaleiro do apocalipse – a guerra – torna-se a ocasião de uma conversão profunda: estando tudo perdido, descobrimos a salvação. Afinal, que sentido faz acrescentar mais um dente de ouro quando já não há pão para comer?
Bendita a guerra que vem relativizar os valores pelos quais nos vendíamos tão barato! Bendita a guerra que vem denunciar nosso egoísmo e nossa inconsequência! A guerra que faz ruído para acordar aqueles que cochilavam ao sol. Com a sua chegada, a mesma bomba que abate uma casa abre as portas do vizinho para a família sem teto. A mesma bala que perfura o peito de uma criança abre um rio de lágrimas no coveiro que a enterra. A dor humana deixa de ser um assunto para poetas e se transforma no pão de cada dia.
Para muita gente, hoje, vive-se um tempo de guerra. Há fome endêmica na Eritreia. Há perseguição religiosa no Sudão do Sul. Há medo do imigrante no túnel do Canal da Mancha. Há conflitos étnicos no Bronx. Há barracos incendiados no bairro do Limão. Claro que nós não temos nada com isso… Ou temos?
Em tempos de paz, cremos que a religião é um assunto pessoal, envolvendo nossa relação com Deus. Em tempos de guerra, quando Deus se esconde com medo dos mísseis, a religião veste outra roupagem, pois alguém está morrendo ao nosso lado. E se Deus não se apresenta, deve ser a nossa vez de tomar providências.
Pode ser esta a pergunta para meu exame de consciência: em que tempo estamos nós?
Artigos Relacionados