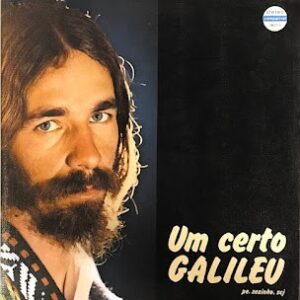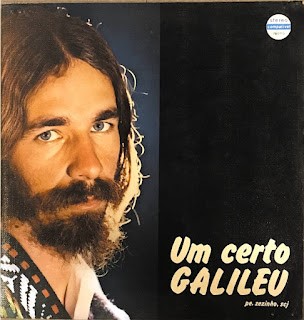Maurim morreu.
Nandim seguiu o cortejo ao lado da mãe.
Debaixo do céu de outubro, sentia o suor escorrendo da mão dela. Seis meses de seca tinham esturricado toda a vegetação. O pasto tinha virado palha seca. Os pés de milho eram lanças ressequidas acusando o céu inclemente.
A mãe apressava Nandim:
— Anda, menino!
Iam morro acima em busca da sombra fresca da árvore-de-óleo, cuja ramagem dava abrigo a todos os sofridos daquela freguesia. Sua enorme silhueta no horizonte era a garantia de sossego ao final da jornada. Mortos e enterrados, seriam todos consolados pelo canto dos sabiás e dos gaturamos.
À frente de Nandim, o pai levava o pequeno caixão de seu irmão gêmeo, morto aos cinco anos de idade. Reto como um jequitibá, o pai fizera questão de carregar sozinho o corpo do menino.
Sem o chapéu de feltro, deixava ver no rosto a musculatura tensa, os olhos de gelo, sem lágrimas. A linha do malar era tão reta quanto a comissura dos lábios. Passadas largas, o pai levava seu fardo.
* * *
Na vigília, Nandim não tinha dormido. O entra-e-sai dos visitantes lhe roubara o sono. Vizinhos, parentes distantes, amigos de pique-esconde, todos vinham olhar o caixãozinho de Maurim. Coberto com uma colcha dourada feita de flores de cambará, o irmão parecia dormir. Dava vontade de espetá-lo com o dedo. Talvez acordasse de seu profundo sono…
A cada visitante, as mesmas perguntas. As mesmas respostas. Maurim tinha pisado num prego enferrujado. Disseram que tinha sido um engradado de queijo esquecido na calçada da fábrica. Maurim não viu, pisou no prego. Quase não sangrou. Mas ficou com medo de contar e apanhar uma coça. Pai vivia dizendo pra não andar descalço…
Dois dias depois, já não podia andar. Levaram para a cidade vizinha, mas o doutor do hospital não achou mais recurso: o tétano veio com violência e roubou a alminha do menino distraído.
Agora, na sua caminha de flores, ele parecia ainda mais distraído. Nandim podia gritar à vontade que o companheiro de folias na beira do Pitangueiras já não responderia mais. Dentro do peito, sentia um vazio enorme, que nada mais podia preencher pela vida a fora.
* * *
O sol de outubro fuzilava no azul indiferente.
Chegando o cortejo, o portão do cemitério rangeu de leve quando o empurraram. No cantinho do horizonte, surgia um fiapo de névoa, fibrilas de algodão. Seu Nhonhô já cavara a sepultura e postara-se junto ao muro, apoiado no cabo do enxadão. Depois de tantos anos, já se acostumara com aquela espécie de ritual: gente cabisbaixa, mulheres chorosas, homens de chapéu na mão. O coração ainda doía, mas era a vida… O coronel rico e o bêbado da vila, todos acabavam democraticamente no mesmo alto de morro.
Nandim esticou o pescoço e viu que o irmão, já coberto pela tampa do caixão, descia para o fundo da cova. O pai continuava firme e seco. A mãe fungava baixinho. Nandim também se segurou. O povo foi passando, jogando alguns torrões que se esboroavam ao bater no pequeno esquife.
Era o adeus…
* * *
Caía a noite, sem pressa. Na cadeira de balanço, o avô parecia cochilar. Nandim procurou com o olhar os olhos perdidos da mãe.
— Mãe, o Maurim não vai voltar?
— Não, filho.
— Nunca mais?
— Nunca mais…
— Por que ele foi embora?
— Deus o levou. É preciso aceitar a vontade de Deus…
Nesse momento, o avô raspou o pigarro da garganta e se ergueu, fazendo gemer o vime da cadeira.
— Uma ova! Deus não queria a morte de ninguém!
Fez-se profundo silêncio. Sá Maria olhou lá da cozinha. O pai, na varanda, voltou-se para o avô, que ameaçava a mãe do menino morto com um dedo fino e comprido:
— Vê lá se o bom Deus ia querer que uma criança morresse desse jeito?! Tudo o que aconteceu foi culpa de um irresponsável que deixou uma tábua com pregos no caminho do Maurim! Ou vocês estão pensando que nós somos marionetes e Deus fica lá do alto puxando as cordinhas?
Nandim criou coragem de perguntar:
— Vovô, e Deus não fez nada quando Maurim morreu?
O velho avô olhou longe, pela janela de cortinas azuis, e respondeu:
— Fez, sim, meu filho. Deus chorou…
* * *
Lá fora, mansamente, começava a chover…
Artigos Relacionados